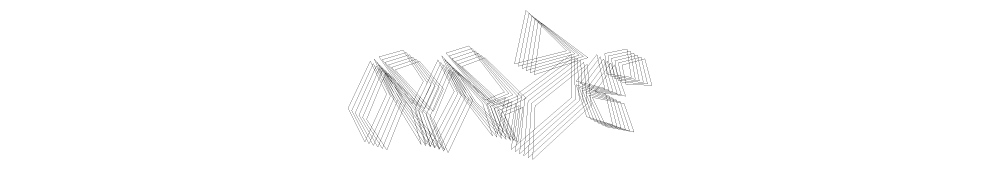Idealizador e curador do festival Multiplicidade – que estreia sua edição 2019 no dia 27/09, com show do BaianaSystem no Circo Voador e segue para uma ocupação no Oi Futuro Flamengo, entre os dias 30/09 e 6/10 -, Batman Zavareze faz um balanço dos 15 anos do evento, explica o tema deste ano (os “Brasis” de um país virado ao avesso), conta o motivo da escolha do BaianaSystem para a abertura (e para uma instalação exclusiva no Oi Futuro Flamengo) e reflete sobre as mudanças e o impacto da tecnologia nas artes em geral.
– Hoje, você tem um cinema em casa, com uma seleção farta de séries, só para ficar num exemplo de escolhas que se tornaram muito acessíveis – diz ele. – Mesmo assim, acho que uma experiência presencial, provocativa e extrapolada, é como uma viagem que fica tatuada para sempre em nossa mente, em nossas memórias afetivas.
Qual o balanço desses 15 anos de Multiplicidade?
Batman Zavareze – O festival surgiu num momento em que a palavra “multiplicidade” nas artes era quase maldita. O teatro era teatro, o cinema era cinema. Vivi um momento onde todos queriam rotular o festival. Senti prazer em surfar numa zona livre e inclassificável. Em 2006, participando de uma mesa com o artista Cao Guimarães, ele me disse que vivia num limbo e isso era muito bom. Ele dizia que o pessoal do cinema o chamava de artista plástico e acontecia o pessoal das artes contemporâneas o chamava de cineasta. Naquele momento , escutando aquilo, me senti fortalecido.
Não era o único, mas sabia que estava trilhando um caminho onde não era um especialista e isso deveria ser ponto principal para traçar meu caminho, num modelo mais intuitivo e aglutinador de ideias. Quando a ruptura dessas fronteiras passou a ser a nova regra das artes, conseguimos, finalmente, aplicar em uma série de editais, já que até então éramos inexistentes. Fomos rotulados de plataformas de artes híbridas.
Atravessamos os nossos primeiros quatro anos (ainda não existia Facebook para desfocar a atenção de ninguém com brigas ou autopromoção) despertando curiosidades de várias pontas: artistas ávidos por experimentar em espaços diferentes e técnicos em busca de novas profissões que buscavam sair do quadrado. Desde o inicio, sempre tivemos parcerias internacionais e aos poucos construímos pontes importantes na Europa, a ponto de termos realizados 15 colaborações no exterior com total compreensão do que poderíamos criar. Numa delas, levamos 50 artistas para Florença numa co-curadoria com um dos atuais curadores da Tate Modern. Fomos pioneiros nesse dialogo no Rio, tanto como uma plataforma que unia artes integradas, como patrocinadores de artistas residentes durante períodos longos. Sempre promovemos eventos presenciais únicos, construídos por muitas mãos juntas. Isso possibilitava ter sempre um pé cravado na experimentação, na pesquisa e na inovação.
Em torno de seis, sete anos de existência, ficou muito claro que a filosofia do DIY (“Do it yourself”, “Faça você mesmo”), alavanca fundamental da era digital, estava migrando para o termo mais inclusivo, DIWO (“Do it with others”, “Faça com os outros”). Isso foi muito estimulante vendo coletivos criando, propondo e se apresentando com propostas novas com as tecnologias e recursos disponíveis naquele momento.
Hoje, com tantas descobertas facilitadas pelas redes sociais, surge um fenômeno crescente da pasteurização das ideias – vejo que há muitos projetos semelhantes, parecem cópias de tão iguais. Acredito que todos estão pesquisando as mesmas coisas, induzidos pelos algoritmos do Google, além de existir um enorme desinteresse do publico em geral que tem se afastado de experiências totais e imprevisíveis, devido a uma enorme competição com o sofá e a tela de bolso. Isso tem gerado uma preguiça coletiva em descobrir e criar, o que afeta diretamente um mergulho mais vertical em novas questões artísticas, mesmo com a criação de ferramentas tecnológicas extremamente sedutoras para criar algo novo. Estamos vivendo um tempo em que todos reclamam que não tem tempo para nada, mas as pessoas continuam perdendo muito tempo com besteiras irrelevantes. Estamos imersos numa tremenda pasmaceira, numa narrativa que mais parece um triunvirato das efemeridades e obsolescências.
Para um evento que teve como temas recentes o barulho e a utopia, o que representa o tema desse ano, BRASIS?
BZ – Estamos imersos numa trilogia. Nada foi premeditado, mas os sinais foram dados pelas tensões que estamos vivendo no Brasil e no mundo desde 2015. Sendo um evento com muita atenção pelas estéticas visuais, em 2017 optamos por documentar como jamais tínhamos feito as sonoridades investigadas pelo festival, e o resultado foi um vinil com as experiências capturadas naquele ano. Tiramos o pé do acelerador das imagens projetadas, uma referencia na memória de todos quando falam sobre o Multiplicidade. Fomos com 30 artistas para o Xingu, com uma seleção de criadores emergentes que eram invisíveis na maioria das exposições contemporâneas e precisavam de uma oportunidade. Trouxemos o Xingu para o festival. Foi um ano que a escuta, confrontada pelo tema BARULHO, foi o norte para promover algumas reflexões artísticas importantes.
Em 2018, falamos de resistência, existência, saídas possíveis para buscar caminhos poéticos e isso era representado simbolicamente pelos espaços utópicos, com uma instalação inusitada do coletivo croata NUMEN que utilizou 32 km de fitas durex para criar um penetrável pelo qual passaram mais de 40 mil visitantes. Ao fazer o livro, enxergamos que as coisas estavam de ponta cabeça e imprimimos a palavra Brasil virada. Ao começar o ano de 2019, com todos perplexos com o retrocesso que a arte, a cultura e as liberdades de expressão têm sofrido, demonizadas, vimos que muitos pontos se interligavam, e era um momento para olhar para dentro, valorizar o artista brasileiro. Percebi que nunca tivemos uma programação 100% brasileira. Essa trilogia, que passa por utopias e distopias, chama-se BRASIS.
Qual a importância de ter um grupo como o BaianaSystem na abertura do festival e também numa das instalações?
BZ – O BaianaSystem é a síntese das muitas questões que precisamos expor através do tema BRASIS. São artistas baianos, fora do eixo Rio-SP, que estão vivendo um momento maravilhoso no Brasil e no mundo. Trabalham de forma muito autoral a união entre imagem, som e tecnologia. São envolvidos por um contexto que sempre provoca muitas reflexões, e com eles, certamente iremos celebrar nossos 15 anos de existência num evento catártico. Por tudo que está acontecendo, queria começar com uma catarse. Neste ano, teremos uma programação em 15 atos com muitos artistas que foram invisíveis ao longo de nossa trajetória. E os homens invisíveis são temas recorrentes nos personagens expostos nas canções do grupo. O BaianaSystem tem raízes culturais fundamentais para entendermos quem somos.
A tecnologia sempre foi o elemento de costura entre as diversas linguagens artísticas do festival. O que mudou na relação do Multiplicidade com ela, da primeira edição, em 2005, até hoje? Como manter essa relação ainda excitante após tanto tempo e com a tecnologia já tão disseminada entre nós?
BZ – Tudo mudou. Em 2005, as experiências presenciais competiam com o controle remoto, um instrumento interativo que já era incrível. Hoje, você tem um cinema em casa, com uma seleção farta de séries, só para ficar num exemplo de escolhas que se tornaram muito acessíveis. Mesmo assim, acho que uma experiência presencial, provocativa e extrapolada, é como uma viagem que fica tatuada para sempre em nossa mente, em nossas memórias afetivas. Lembro do meu primeiro filme no cinema, da minha primeira viagem internacional, de um show do Kraftwerk, da primeira onda que surfei até a areia e da excursão da escola ao planetário.
Existe uma fórmula fácil de atingir e de manter o sucesso que refuto. Dito isso, o festival sai de uma janela que não se sustenta e nunca se sustentará pela bilheteria ou por ativações de empresas de marketing dentro do evento porque muitas vezes apresentamos projetos novos, projetos pilotos. Independente das tecnologias, sejam elas analógicas ou digitais, existe uma função investigativa e impulsionadora de pesquisas artísticas autorais.
Nós brasileiros, mesmo os das grandes capitais, com acesso a tudo, não somos um povo que foi educado para frequentar museus. Isso existe apenas para uma minoria cada vez mais isolada. Se não existe essa cultura de consumir arte, nosso papel torna-se ainda mais importante ao apresentar novas propostas artísticas que tem pouco espaço, ao inventar uma cena com regularidade, ativando uma economia com profissionais capacitados e educando o público a ver algo novo e instigante.
Da mesma forma que o festival surgiu gerando infinitas expectativas, eu acredito que tudo tem inicio, meio e fim. Fizemos contribuições importantes para a cena artística, mas não quero me reinventar pautado pela moda ou por “likes” sem propósitos. Existe uma mensuração artificial de sucesso que pouco me interessa. Se um dia uma cultura de mercado prevalecer como condição de existência, fecharemos um ciclo e vamos inventar uma nova relação com o que construímos de legado até então.