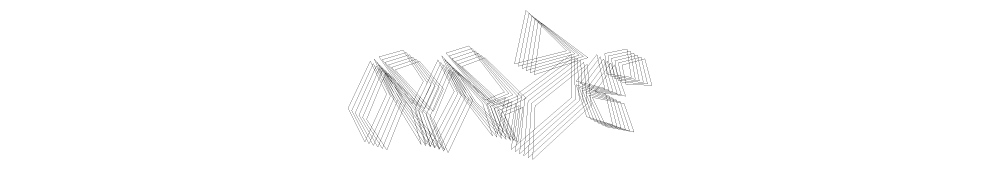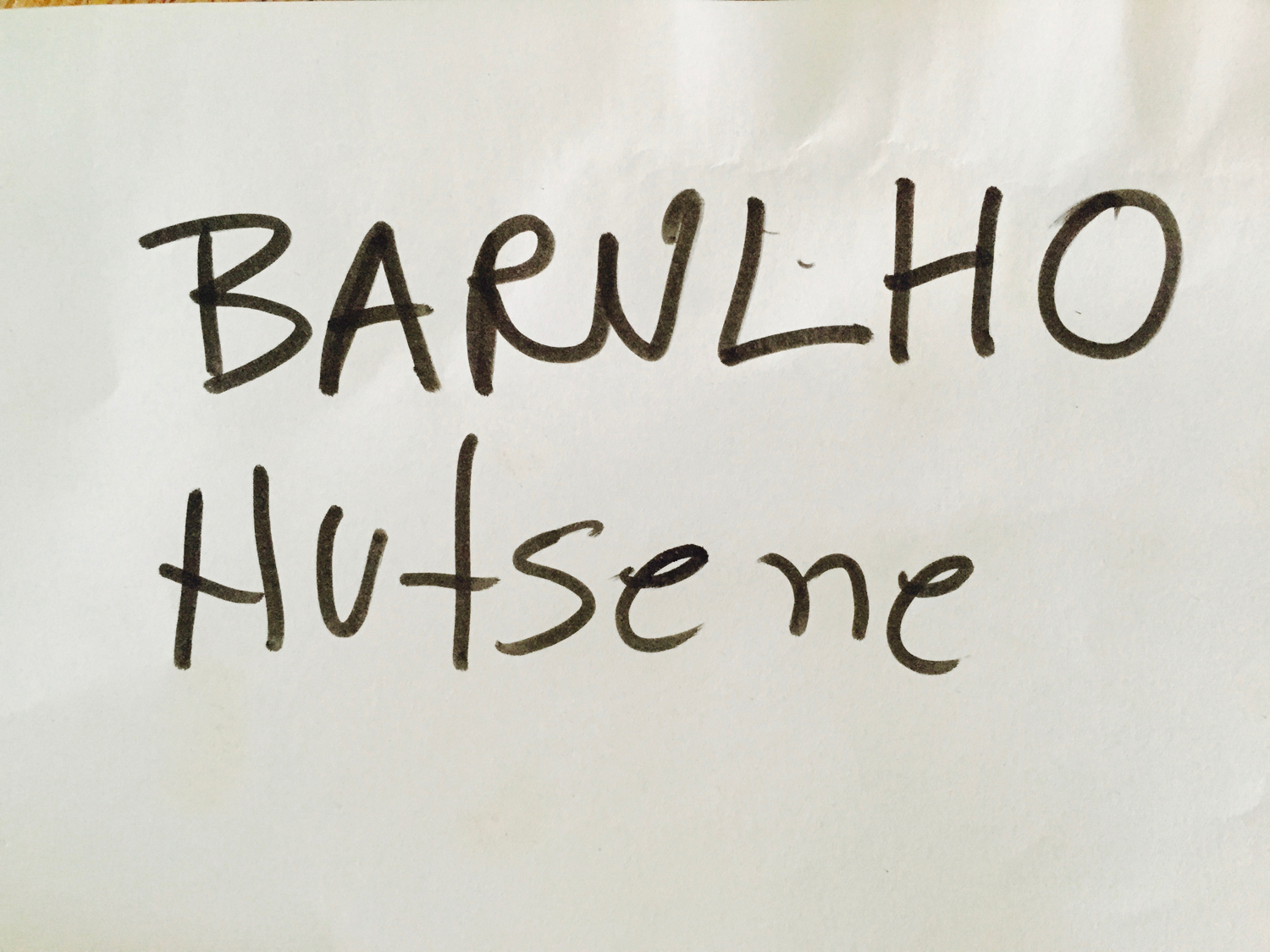O Multiplicidade sempre fez jus ao nome. Ao longo dos seus 14 anos de vida, o festival de imagens e sons inusitados, dirigido por Batman Zavareze, já se transformou em livro de arte (foram dez), teses de mestrado (em três estados do país) e até em uma série de televisão (no Canal Brasil). Agora, ele se desdobra em um novo formato: o vinil, com o lançamento de um disco com sons registrados na sua mais recente edição. A peça, com edição limitada, vem assinada pelos DJs e produtores Nado Leal e Calbuque.
“Sendo um festival que traz no seu nome imagens e sons inusitados, confesso que tinha sempre em meu radar o sonho de um dia produzir um vinil” – explica Zavareze. – “Um objeto de arte que tivesse a mesma importância do livro em nossa história, ser uma obra artística que resgate em nossa memória a experiência do festival.”
A oportunidade de transformar esse sonho em acetato surgiu em 2017, quando o barulho foi o tema central do festival. O evento teve a participação de artistas da França, Itália, Canadá, Espanha, Sri Lanka e, claro, do Brasil, incluindo dez representantes da comunidade Kuikuro, no Xingu, como resultado de um intercâmbio promovido pelo festival, em parceria com o People’s Palace Projects, dirigido pelo britânico radicado no Brasil, Paul Heritage, com o centro de pesquisa britânico da Queen Mary University of London, com a Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu (AIKAX) e com o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura (NECCULT/UFRGS).
Foram dias e noites intensos, com experimentações musicais e visuais inesquecíveis. Tivemos a videoarte de Tarik Barri (Holanda) na performance “Continuum AV”; o espetáculo de ruídos e luzes “Field”, de Martin Messier (Canadá); o minimalismo digital de Alex Augier (França) em “_nybble_” e a performance arrebatadora da Quasi-Orquestra. Presenciamos o cinema sensorial de Carlos Casas (Espanha), ao lado do Chelpa Ferro, com intervenções de Neil Leonard e Nikhil Uday Singh; uma instalação do coletivo Manifestação Pacífica e o virulento show do Ninos du Brasil (Itália). Curtimos também o desfile coletivo do Looping: Bahia Overdub, a música desafiadora do DJ Coni (França) e as obras de DMTR, Fabiano Mixo e Gabriela Mureb.
“Pudemos explorar e investigar o som com especial atenção como jamais havíamos pensado. Tivemos dez diferentes línguas de países que representaram a multiplicidade e riqueza de nosso line up” – conta o curador. –“ Coletamos sons com gravações de campo do Xingu e com os barulhos do público na abertura. Registramos também todas as performances durante o festival.”
Depois de organizar todos esses sons e registros, o festival convidou Nado Leal e Calbuque, com suas vivências como DJs, para criar um remix livre e pessoal do que aconteceu na temporada 2017 do Multiplicidade. O resultado é uma peça nova, única, (re)criando camadas hipnóticas e poéticas com um novo corpo sonoro. Lado A (Nado), lado B (Calbuque).
“Poder trabalhar e reorganizar artistas como Carlos Casas, Chelpa Ferro , Alex Augier, Dmtr, entre outros, foi provocador” – admite Nado. – “Mas aos poucos foi nascendo essa faixa ininterrupta, às vezes lúdica, em outras brutal e incômoda.”
“Foi um desafio que me pegou de surpresa e me estimulou muito” – conta Calbuque. – “Vi todas as apresentações do festival e sabia o contexto exato de cada som que tinha nas mãos. O que busquei foi re-contextualizar aquelas células musicais e tentar criar algo novo, sem perder o sentido de experimentação que marcou o festival. Foi um meticuloso trabalho de arquitetura sonora.”
Com o trabalho finalizado, o design recebeu um cuidado todo especial, com a direção de arte da Bold°_a design company, comandado por Leo Eyer. O resultado foi uma edição luxuosa com capa dupla, com encarte gráfico especial, com fotos em páginas duplas e uma bolacha em acrílico vermelha.
“É mais um registro e um documento histórico de uma longa caminhada. Regando a arvore que não para de crescer e gerar novos frutos.” – resume Batman Zavareze.
Ouça aqui: